Texto: Francisco Panguana Junior
Eram nove horas da manhã quando desembarquei no terminal de transporte interprovincial de Mpadué. Dirigi-me ao centro da cidade de Tete. De longe, via o imponente Zambeze. O rio, com a sua incontornável identidade abraçava as encostas das montanhas mais ao Norte da província.
Nunca tinha saído da minha província natal, Maputo. Lá nasci, cresci e fiz toda a minha formação académica. Portanto, tudo que via naquela terra era novidade para mim. Sentia-me alheio àquela terra. A língua e os hábitos locais distanciavam-me daquele lugar. Não conseguia entender as pessoas que falavam Nhungwe. Talvez por falta de atenção. Afinal mais de 234 quilómetros me esperavam até o meu destino final, o distrito de Angónia.
Dirigi-me ao terminal de transportes e tomei o autocarro com destino ao distrito de Angónia. Em poucos instantes, o carro estava a percorrer a ponte Samora Machel, que liga as duas margens do gigante Zambeze. Com águas meio tranquilas, o Zambeze atravessa ao meio a cidade de Tete e vai desaguar no longínquo Índico.
Chegado à Mussacama, um tradicional ponto de encontro, uma paragem obrigatória. Aproximei-me a uma das bancas para degustar da galinha cafreal, frita à base da lenha.
– Nhama! Está aqui nhama! – diziam as senhoras, convidando-me a aderir aos seus produtos.
As vendedeiras falavam em simultâneo, cada uma fazendo um grande esforço para ser a mais ouvida e, por isso, aumentar as chances de vender. Aquela palavra, nhama, fez-me sentir parte daquela comunidade. Afinal, na minha terra nhama significa carne também. Parecia que ia entender mais palavras, o que não se sucedeu. Mas estava meio aliviado: tinha uma asa de galinha cafreal em mãos, degustando-a milímetro a milímetro. Também, contemplava a imponência do monte Zóbue, que faz fronteira com o vizinho Malawi.

Depois apareceu uma jovem vendedeira de água. Gritava continuamente: matsi. Mais uma vez, senti-me membro daquela comunidade. Na minha língua matsi é água. Aquele bantu comum, palavras idênticas em duas ou mais línguas Bantu, fazia-me esquecer a minha terra natal e aumentava a vontade de aprender a língua local. Olhei para o mapa linguístico, descobri que naquela terra se fala Nyanja. No entanto, os falantes de Nyungwe e desta língua se comunicavam perfeitamente. Afinal as línguas não nos separam! Quem cria a separação são os homens. Concluía.
Trinta minutos depois, o motorista buzinou, sinalizando que já estava na hora de reembarcarmos no autocarro de transporte sei-colectivo. Todos dirigimo-nos ao autocarro. A nossa viagem continuou. Pelo caminho, via uma paisagem inusitada. A estrada serpenteava as montanhas gigantes, repletas de uma vegetação vívida. Jovens, crianças e até idosos aglomeravam-se para comprar batata frita, um dos produtos mais abundantes daquela região planáltica.
O sol já se tinha escondido para além das montanhas quando uma passageira ao meu lado tomou o telefone e atendeu uma chamada. Falava na língua bantu local, manifestando uma preocupação. De repente informou: phakati ka wussiku. Tentei intrometer-me, pensava que estivesse falar changana. É que aquela toda frase é assim dita na minha língua igualmente e significa: meia-noite. Neste ínterim percebi que o país não é tão distante que não nos possamos entender. O Mfecane deixou marcas inapagáveis naquela terra. Entre aquelas montanhas bem esverdeadas e úteis para a prática da agricultura, aqueles rios extensos e ameaçados pela poluição e aquelas terras férteis, ficou preservado o vocabulário Nguni, unindo os vários povos. Algures diz-se que o país é uno e indivisível. Nunca tinha imaginado que a dois mil quilómetros poderia entender uma palavra igual a da minha língua.

Duas horas depois, a viagem terminou. No terminal de transportes interdistrital ouvi mais algumas palavras de unidade nacional ajuntada a outras que não compreendi: kufika e njala. Afinal não é só o Português que é língua de unidade nacional? Questionei-me. Fiquei convencido de que a línguas Bantu o poderiam ser. Dizendo kufica, o passageiro anunciava, via telefone, a sua chegada à Vila Ulónguè. O outro, ao dizer njala, anunciava estar com fome. Ambas palavras são usadas nas línguas do Sul. Os Nguni não passaram, permaneceram naquele local. Aliás, os naturais daquele local são chamados de mangoni(s).
De longe, via um grupo cultural vestido de peles de animais da cabeça aos pés. O grupo, de quase duas dezenas de membros, parecia surgir das montanhas que circundam a vila. Cantava. Dançava. As crianças seguiam-o, arrastando a poeira que abunda naquela época do ano. Os mais curiosos abandonavam as chipçarias (local onde se frita e se vende batata com salada e por vezes com carne). São locais tradicionais e uma marca registada daquela região, existindo até nos bairros suburbanos da cidade de Tete. Funcionam como uma lareira feita à base de tijolos. Sobre o forno põe-se uma chapa com uma reentrância grande que permite a fritura dos alimentos.
Aquela viagem fez com que eu me (re)descobrisse. (Re)descobri o mundo ao qual pertencia, mas desconhecia a sua plenitude. Afinal sou um bantu igual aos demais povos com os quais me cruzava! As nossas línguas unem-nos. Nem a extensão geográfica separa-nos. Viajando (re)descobrimo-nos.
__
Francisco Panguana Júnior é escritor e professor moçambicano, baseado na província de Tete. Com seu romance de estreia “Os peregrinos da sobrevivência” venceu o Prémio Literário Fernando Leite Couto, 2024. É também detentor do Prémio Literário Carlos Morgado, edição de 2023, com o conto “A ilegítima defesa de Adão“.
___________________
Foto de destaque de Kabwe Kabwe/ Pexels

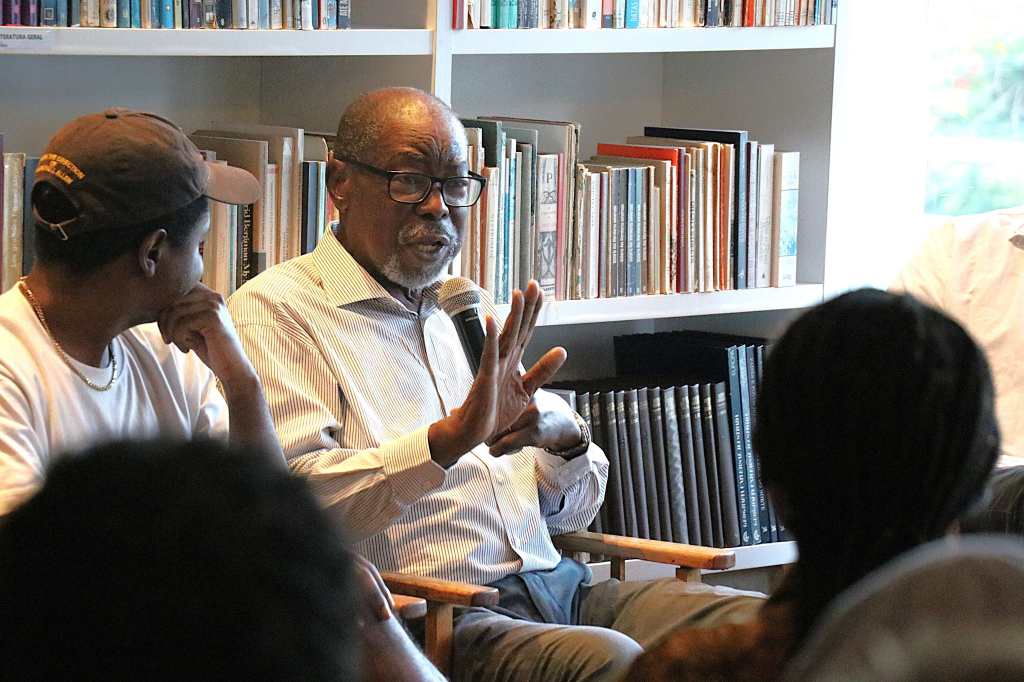



Deixe um comentário