Quando Ngungunhana foi preso e levado para Portugal, foram com ele as esposas. Porque as leis da então sociedade portuguesa era proibido um homem ter mais de uma esposa, ele foi obrigado a escolher. Elas recusaram-se a serem reduzidas a uma e então o rei ficou sem nenhuma delas. A história ocupou-se pouco em saber para onde foram parar as sete mulheres. Até sabe-se mais pela ficção que elas foram parar nas plantações em São Tomé e Príncipe, cinco delas mais tarde repatriadas para Gaza, Moçambique e outras duas nunca mais voltaram a pisar o chão da sua terra, nem reunir-se com os seus ancestrais. Os familiares dessas duas mulheres que não puderam sequer fazer o luto, enterrar as suas filhas, dar-lhes o último adeus, como terão ficado? Os africanos conhecem o eterno transtorno de não enterrar os seus mortos. Isso é um peso que se carrega no mundo dos vivos e no mundo dos mortos.
Vem então este “Corpo Migratório” fazer o exorcismo desta e de outras angústias.
“Quem parte demais desaprende de chegar”
A noite era de brisa; as nuvens adensaram-se e o céu já dançava antes de se ouvir a voz que sussurrava as palavras em nome das mulheres esquecidas. Uma voz por várias vozes que se recusam continuar a sucumbir no profundo silêncio e no esquecimento.
O palco estava vazio, os corpos espalhados, separados uns dos outros, preenchiam o extenso vazio que os espectadores deixaram com a sua ausência. No Teatro Mapiko da Casa Velha estava pouca gente e também poucas são as vozes que se podem escutar nas profundezas dos mares que levaram daqui homens e mulheres, matéria-prima para a indústria da brutalidade humana. A escravatura foi talvez o mais fundo que a humanidade conseguiu chegar na materialização da exploração, dominação da sua própria.
Durante cerca de 50 minutos quatro mulheres travaram a batalha contra o tempo, contra a negação sistémica da história, pela verdade que não se olha de frente. Mas sobretudo, a batalha foi pela saída das profundezas da memória e pela recusa em caminhar no “peso que não se vê”. Elas vieram “devolver o nome às mulheres esquecidas”. Eram, eles mesmos, aqueles corpos, usados por espíritos para trazerem a sua mensagem de onde não os podemos escutar nem perceber a língua.

“A terra já não me reconhece mais”.
Feito de palavras fortes, poéticas bem como dramáticas, códigos próprios de almas que já se esqueceram de comunicar como os vivos ou então no idioma que já estes se esqueceram; um ritual de angústias, desespero e renascimento, “Nzula trilogia I – Corpos Migratórios” é uma obra que só peca por legar às mulheres as culpas da tragédia humana protagonizada por homens. Talvez, no fim, tudo faça sentido. Nas nossas tradições, às mulheres ficam as dores colectivas, o silêncio, a lágrima e o luto. Mas foram também as mulheres as que a história silenciou ao não se importar de registar os seus percursos, tormentos e… actos heróicos.
A performance centrava-se em quatro mulheres, sendo uma delas a que levantava a voz. À margem, estavam outras cinco mulheres vestidas de capulanas de cores vermelhas, o m’siro no rosto e o sentar de quem sabe que já nada se pode fazer. As cinco mulheres integrantes do grupo Tufo da Mafalala, faziam o coro do choro, e assistiam, sem que nada pudessem fazer, os corpos de outras quatro mulheres, em transe, a renascerem, a saírem do fundo do mar para estenderem-se ao sol dos vivos e às areias quentes de África, junto dos seus filhos, que ficaram para trás apenas por serem matéria sem utilidade nos campos de plantação da cana-de-açúcar e do algodão; filhos que viram partir as mães em troca do choro, do abandono despreparado e dos tormentos aos ventos noturnos, que escancaram os barulhos da ausência do côlo materno:
“Ainda sinto a minha mãe dentro da água, ela canta em mim”. É a voz da narradora que diz estas palavras. Em nome de todas elas.

As vozes das almas, as que chegaram ao destino desconhecido onde foram forçados a cultuar a outros deuses, onde tiveram de cantar as suas canções em surdina, onde aprenderam a fazer da saudade canção, recusam-se a silenciar-se e a serem esquecidas pelos seus. Talvez hoje voltem como espíritos intranquilos, sedentos dos cheiros da sua terra.
“A água levou os corpos, mas não levou as palavras”.
O jogo entre palavras, a música que vinha de toda a parte, da voz das mulheres de m’siro no rosto e campulanas vermelhas, dos chocalhos amarrados aos pés das bailarinas e do próprio pé descalço a bater no cimento queimado, conferiram mistério necessário para que se entrasse no coração da aflição. Elas queriam regressar à sua terra, antes que fosse tarde, antes que a terra não as conhecesse mais.
“Há vozes dentro de mim a bater na carne. A pedir libertação.”
Os corpos eram as vozes perturbadas, desesperadas e castigadas pela vontade irreparável de regressar à terra e aos seus. Aqueles corpos não pertenciam àquelas mulheres em palco naquele instante. Como nos rituais de kufemba, eram pedaços de carne usada pelos espíritos ávidos de regressar dos cofins, para impor a sua presença e vontade. Ou será o delírio, a orfandade e a saudade que levou ao limite da sanidade, até que nada mais importasse, senão tirar de uma vez o que a alma já não suporta.

“Este corpo não é meu. É de todas as que não voltaram.”
O espetáculo é de uma exigência a todos os níveis para as artistas. O corpo é o centro de todo o discurso. Nem todas as palavras existem para expressar a dor. Nem todas as dores tem um nome. E são muitos os nomes, como as mulheres que as águas pela força dos homens, afastaram-nas das famílias, do país e do continente, para serem operárias do “primeiro mundo”, as pioneiras da hiperprodutividade, antes do homem descobrir que afinal pode com metal criar seres que podem trabalhar sem cessar, sem sucubir de doenças, do cansaço e sem reclamar direitos e condições dignas de trabalho.
Muitas são as feridas que se abrem com este espectáculo. Muitos são os campos de reflexão que migram entre si, mas sempre com as setas apontadas para este “admirável mundo novo”, onde o negacionismo às atrocidades do passado histórico ocupam cada vez mais espaço do que os nomes das mulheres esquecidas.
Já agora, as mulheres em palco foram Joana Balango, Felizarda Chioze, Regina Cuamba e Rostalina Dimande. As outras, milhares certamente, o desconhecimento dos seus nomes é um peso que ainda nos vai perseguir.
Exaustas de tudo o que viveram aqueles corpos, feito o exorcismo e a terapia colectiva, quando já se havia extravasado o limite da dor e do sofrimento, eis que nos aliviam, como o último esforço para relegar às mulheres, só às mulheres, essas que de tudo que se perde, a dor da desumanização é maior, elas afirmam:
“É o ventre, não são os pés que doem.”
Esta performance vem recordar que é preciso escancarar o passado para uma terapia colectiva. Para que os que ficaram se possam curar, talvez, da orfandade que persiste. Esse é o ritual que África, a humanidade, terá de fazer, sem mais demoras.


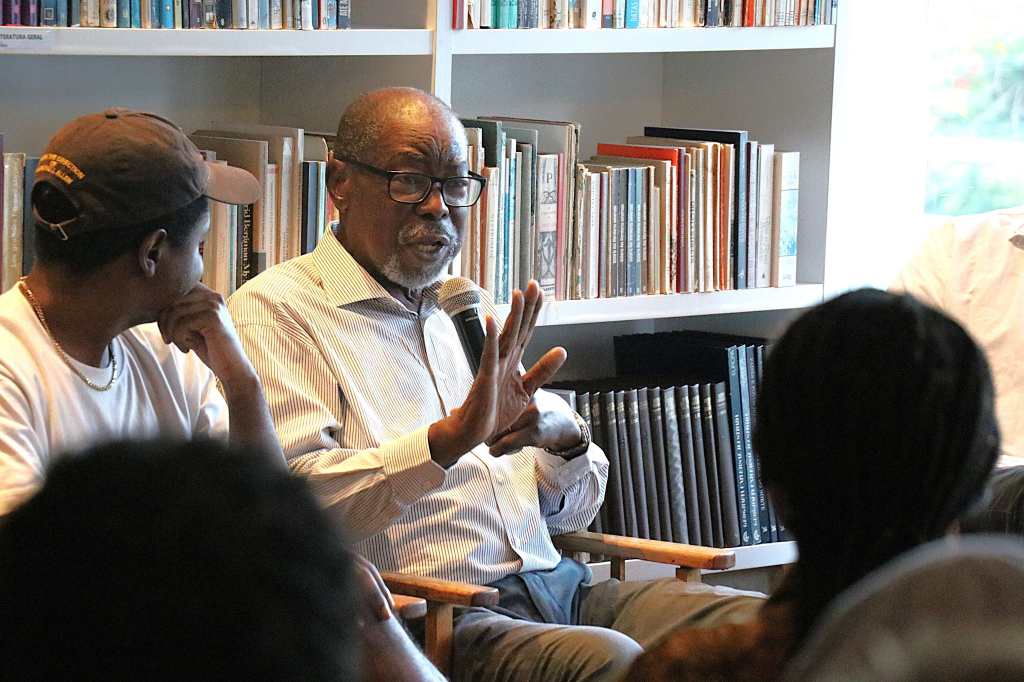



Deixe um comentário