Era manhã de segunda-feira quando decidi finalmente ir ao hospital. O peito chiava, a tosse não me deixava dormir, e a garganta queimava como se tivesse engolido carvão aceso. Tive de fazer um pequeno exercício financeiro para conseguir uma consulta privada. A saúde, aqui, mede-se também no bolso: quanto mais fundo o bolso, melhor a rapidez do atendimento.
Na sala de espera, cadeiras de plástico azul alinhadas como soldados cansados. O ar condicionado, velho, fazia mais barulho do que frio. Cada paciente carregava no rosto a pressa de sarar, mas também a resignação de quem já sabe que curar é luxo.
Foi ali que o tema nasceu.
Uma mãe, vestida de um fato daquela marca francesa, bolsa de marca italiana, pousada ao lado, os cabelos, provavelmente asiáticos, falava alto ao telefone:
— Sim, comprei o iPhone para o miúdo. Esse, acho que é o quinze. Sim, só tem nove anos, mas merece. Não posso lhe deixar atrás dos colegas.
A sala inteira escutou. Até o senhor que lia o jornal levantou os olhos por cima das letras gordas.
Eu tossi, talvez mais para entrar na conversa do que para limpar a garganta.
— E não é cedo, mana, para tanto?
Ela olhou-me de cima a baixo, como quem avalia não só a pergunta, mas a minha roupa.
— Cedo? O mundo não espera. A escola já pede trabalhos de pesquisa, e os amigos dele já usam. Não quero que o meu filho seja o “pobre” da turma.
Uma senhora idosa, lenço na cabeça, que até então estava calada, interrompeu com voz trémula mas firme:
— No meu tempo, as crianças eram pobres de tudo, menos de imaginação. Agora parecem ricas de tudo, menos de infância.
O homem ao meu lado, funcionário bancário pelo crachá, acrescentou:
— Eu também comprei um smartphone para a minha filha de dez anos. Não queria. Mas todos os colegas tinham. Se não desse, ia ser excluída.
— E achas que isso é inclusão ou chantagem social? — perguntei.
Ele suspirou.
— Não sei. Mas sei que ela sorri quando tira fotos com as amigas. Sorriso não se nega.
A enfermeira que chamava pacientes, aproveitou uma pausa e disse em voz baixa, quase confidência:
— Mas também recebemos aqui miúdos viciados. Oito, nove anos, já com ansiedade porque ficam sem internet. É vício, como tabaco. Só que é legal.
A mãe do iPhone novo reagiu logo:
— Não exageremos. É tecnologia, é futuro. Querem que os nossos filhos fiquem atrasados?
— Futuro sem raiz é árvore que cai ao primeiro vento — murmurou a avó, mexendo no lenço.
A conversa foi aquecendo.
— Mas, mana, não é também estatuto? — perguntei à mãe moderna. — Mostrar que pode dar o melhor?
Ela não negou:
— Claro que é. Trabalhei duro. Quero que vejam que o meu filho não fica atrás. Que ele tem.
— Ter é o mesmo que ser? — arrisquei.
Ela hesitou, mas manteve o tom.
— Hoje em dia, quase é. Se não tens, não existes.
O bancário acenou, solidário:
— A sociedade moçambicana mudou. O celular virou documento de identidade. Até adulto sem smartphone é olhado de lado.
A enfermeira voltou à carga:
— E as consequências? Criança de dez anos já sabe esconder segredos no telefone. Já fala com estranhos. Já pede vídeos perigosos. Quem controla isso?
A mãe respondeu:
— Eu controlo. Tenho acesso, vejo tudo.
A avó abanou a cabeça.
— Pode controlar hoje. Mas amanhã? A tecnologia corre mais rápido do que o amor.
Silêncio. A frase caiu como pedra no rio.
O senhor do jornal fechou-o de vez e falou:
— Também é preciso pensar no cérebro. Um celular na mão de uma criança é como dar uma faca afiada a quem ainda não sabe cortar cebola. Pode aprender, sim. Mas até lá, corta-se.
— Mas o mundo exige — insistiu a mãe moderna. — Se o meu filho não souber mexer, perde oportunidades.
— E se souber demais, perde a alma — disse eu. — Não se trata de proibir, mas de medir. A infância é rio curto. Se entupirmos de aparelhos, a água deixa de correr limpa.
O bancário contrargumentou:
— Mas também é hipocrisia. Nós, adultos, estamos sempre no celular. Queremos que os filhos façam diferente?
— Queremos que façam melhor — respondi. — A função dos pais não é repetir os erros, é corrigi-los.
Um jovem, estudante de medicina pela bata, juntou-se à roda:
— Tenho um primo de onze anos. Passa noites a jogar no celular. Agora tem problemas de visão e insónia. Os pais dizem que “é normal”. Mas não é.
A mãe moderna retrucou:
— Mas também há crianças que aprendem línguas, programação, matemática, tudo pelo celular. Não podemos negar a ferramenta.
— O problema não é a ferramenta — disse o estudante. — É a idade. É dar faca sem dar tábua. É pôr motor antes de ensinar travão.
A conversa já parecia assembleia. Os pacientes esqueciam-se das dores. As palavras curavam ou doíam mais do que os remédios.
— Em Moçambique — arrisquei — o celular virou também símbolo de “cheguei”. Os pais querem dizer ao bairro que venceram. Mas quem vence afinal? O filho, que se perde no ecrã, ou o ego dos adultos, que se inflama?
— Ego não dá febre — disse a mãe.
— Mas dá febre social — respondi. — Cria comparações, invejas, dívidas. Há quem se endivide só para comprar um telefone. É a nova escravidão: trabalhar para pagar tecnologia.
A avó suspirou:
— No meu tempo, criança brincava com lata, fio e arrame. Hoje, criança pobre chora porque não tem “tablet”. Mudaram os brinquedos, não mudaram as lágrimas.
A enfermeira chamou mais um nome, mas o debate não parou.
— Então, qual é a solução? — perguntou o bancário. — Proibir?
— Não. É educar — disse eu. — Ensinar uso. Limites. Mostrar que celular é janela, não casa. Que a vida acontece fora do ecrã.
— E se a moda não deixar? — retrucou a mãe moderna. — A pressão é forte.
— Então sejamos rebeldes — disse a avó. — A moda passa. A memória fica.
Chamaram o meu nome. Levantei-me, tossindo. Antes de entrar na consulta, olhei para trás. A mãe de cabelo do colono ainda falava, mas com menos convicção. O bancário pensava, mordendo a tampa da caneta. A avó sorria, como quem já vira muitas modas passar.
Entrei no gabinete médico com o peito pesado e o coração leve. Percebi que, naquela clínica, o verdadeiro remédio não estava no antibiótico, mas na conversa: a cura possível contra a febre do consumo e o vírus da pressa.
E deixei-me com uma pergunta, que ainda hoje me arde como a garganta naquele dia:
Queremos filhos conectados ao mundo inteiro… mas desligados de quem está mesmo ao lado?
Destaque Imagem de topntp26 no Freepik

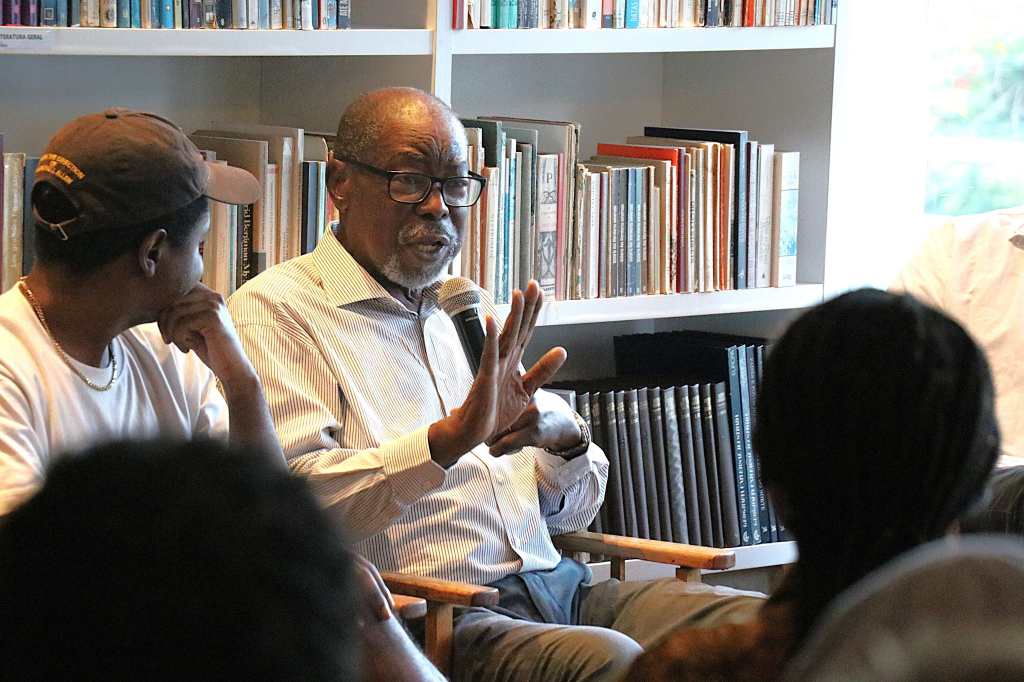



Deixe um comentário