Pascal Casanova lembrava que todo escritor, ao entrar no mundo das letras, enfrenta um campo desigual, marcado por fronteiras invisíveis, onde a circulação de prestígio e reconhecimento obedece a uma economia própria. No caso da literatura africana em língua portuguesa, esta luta assumiu contornos dramáticos: escrever e publicar significava, muitas vezes, desafiar a ordem colonial e pagar o preço da repressão.
A história da edição literária em Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau é, por isso, mais do que um registo cultural: é o testemunho de um combate. Um combate travado por escritores e editores que, conscientes da sua posição subalterna no sistema colonial, ousaram alterar as regras do jogo, abrindo fissuras no edifício da censura e da perseguição.
Em Angola, as primeiras manifestações que viriam a formar o corpus da literatura africana lusófona emergiram na imprensa. Revistas como Cultura ou o suplemento “Artes e Letras” do ABC – Diário de Angola, impresso em Luanda, tornaram-se trincheiras de resistência. Nomes como Agostinho Neto, Alda Lara, Pepetela, António Jacinto ou Óscar Ribas publicavam textos onde a denúncia do colonialismo se insinuava, às vezes velada, outras vezes clara.
Apesar da vigilância da PIDE e da censura prévia, parte destas obras conseguiu atravessar fronteiras. Muitos textos encontraram abrigo em Lisboa, publicados pela secção editorial da Casa dos Estudantes do Império — instituição que, ironicamente, fora criada para moldar elites coloniais e acabou por se transformar em berço de nacionalismos africanos. Essa circulação, contudo, não passava despercebida ao aparelho repressivo, que perseguia tanto autores como editores.
Em Moçambique, a literatura consolidou-se como instrumento de resistência. Desde O Africano, criado pelos irmãos Albasini no início do século XX, até O Brado Africano, fundado em 1919, a imprensa serviu de palco para a contestação e para a construção de uma memória coletiva comprometida com a luta.
A publicação, décadas mais tarde, de obras como Xigubo, de José Craveirinha (Lisboa, 1963), ou Nós Matámos o Cão Tinhoso, de Luís Bernardo Honwana (Porto, 1964), revelou como a palavra escrita se tornava arma política e cultural. Também a Sociedade Notícias da Beira ousou editar literatura: em 1963 publicou A Portagem, de Orlando Mendes, num gesto que unia jornalismo e intervenção literária.
A experiência da editora Imbondeiro, fundada por Leonel Cosme e Garibaldino de Andrade, é reveladora da ambiguidade deste processo. Ambos estavam integrados na sociedade colonial angolana, mas escolheram dar voz a escritores influenciados pelo neo-realismo e opositores da continuação do regime. Assim, entre margens contraditórias, a Imbondeiro garantiu circulação e visibilidade a textos que faziam tremer o edifício colonial.
Durante a década de 1960, à medida que os movimentos de libertação ganhavam força, a circulação de jornais e livros tornou-se parte integrante da luta. A literatura africana em português atravessou censuras, fronteiras e polícias políticas, encontrando leitores em Lisboa, Luanda, Lourenço Marques e muito além.
Nesta coluna defendi num texto anterior que a edição de livros é um acto de resistência e ao longo destes textos tenho estado a demonstrar como isso se deu em diferentes momentos históricos. A breve história que contei hoje demonstra que mesmo em condições de opressão, houve quem ousasse inscrever os textos africanos na economia global da literatura. Neste caso, a resistência de escritores e editores constituiu aquilo que Achile Mbembe chamou de “formas de inscrição africana no mundo”, pois através do seu trabalho reivindicaram uma afirmação de pertença a um espaço literário mundial que, até então, lhes negara lugar.

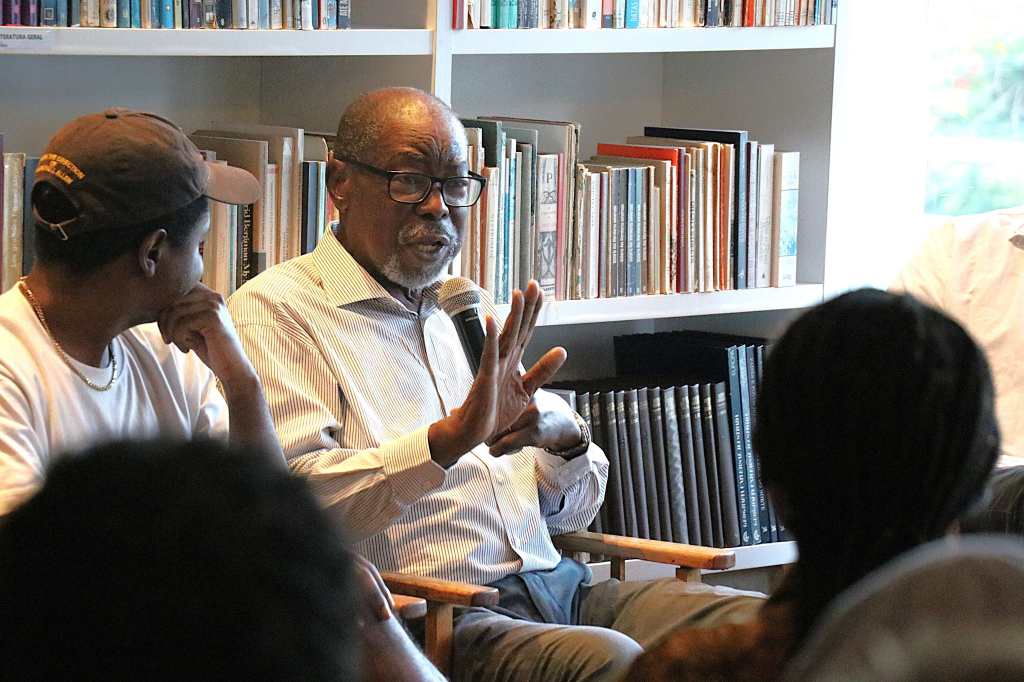



Deixe um comentário