O trânsito, naquele princípio de manhã, arrastava-se como um grande réptil cansado, deslizando com dificuldade pelas estradas enlameadas que ligam o Município da Matola à Cidade de Maputo. A chuva não caía: desabava. Era como se tivesse decidido, de repente, cobrar uma dívida antiga ao asfalto esburacado, às bermas improvisadas, aos vendedores que seguravam as suas lonas para que o vento não as levasse, às mamanas equilibradas nos MyLove’s sobrelotados. E a todos nós, que por ali circulávamos, obrigava-nos a encarar aquilo que, tantas vezes, fingimos não ver.
Foi nesse cenário de água, matope e buzinas que o olhar se fixou num quadro que não deveria pertencer a qualquer lugar de terra onde habitam humanos. Era uma imagem simples, mas poderosa: duas crianças. Uma delas, muito pequena, envolta numa capulana que mais parecia um escudo contra a crueldade do tempo; a outra, com os chinelos na mão, pisando areia fria e cheia de água como quem já se habituou a perder o conforto antes mesmo de aprender a desejá-lo. Caminhavam devagar, mas com a determinação dos que aprenderam cedo demais que o privilégio não é um direito, é um acaso.
A zona onde as avistei não está longe do centro urbano. Aliás, está dentro dele, mas como se fosse de outra cidade. Uma cidade paralela, que corre ao lado da Maputo moderna dos cafés climatizados, dos edifícios espelhados e das fotografias que ficam bem nas redes (in)sociais. Essa outra cidade, escondida mas palpável, é feita de ruas alagadas, de casas improvisadas, de gente que não tem tempo para actualizar o estado do WhatsApp porque a urgência lhes ocupa as mãos.
Fiquei a saber, mais tarde, pela irmã da professora daquelas crianças, que elas estavam felizes. Sim, felizes. Porque iam à escola. E ir à escola, para elas, não é uma rotina, não é uma obrigação, não é sequer uma expectativa: é a única certeza. A certeza de que lá serão acolhidas, lá deixarão para trás o trajecto difícil, lá encontrarão um pequeno intervalo de normalidade. Talvez a única normalidade que lhes é permitida. Mas naquele dia, nem essa certeza resistiu à chuva. A “sala de aula” era uma árvore. Uma grande árvore de sombra generosa, dessas que servem de abrigo ao calor, aos recreios improvisados e aos sorrisos que brotam nas pequenas pausas entre lições. Contudo, nesse dia, a árvore chorava. Chorava pelas folhas, pelas raízes, pelos ramos que não podiam proteger ninguém. A chuva atravessava tudo sem piedade. E a sombra que ela oferecia, normalmente tão benevolente, tornara-se inútil, incapaz de impedir que cinco pequenas criaturas se encharcassem de desânimo. Cinco crianças. Era o número dos resistentes. Os suficientemente teimosos para, apesar da água, da lama e da distância, não desistirem de aprender. E ali, debaixo daquela árvore vencida, estava também uma professora. Grávida de sete meses. Sete meses de uma vida que crescia dentro dela enquanto, do lado de fora, tantas outras vidas dependiam da sua coragem. O corpo pesado, os pés inchados, o cansaço multiplicado. Porém, estava ali, de pé, a tentar proteger crianças da chuva com o seu próprio corpo. Mas a chuva não parava.
Foi então que ela tomou uma decisão improvável, quase absurda, quase poética: abriu o seu pequeno Vitz, chamou as crianças e levou-as para dentro do carro. Ali, comprimidos entre bancos, pastas molhadas e vidros embaciados, nasceram explicações, perguntas, respostas, gargalhadas. A professora abriu a sua lancheira e dividiu com eles o pouco que tinha: pedaços de maçã, talvez, ou uma sandes improvisada. O suficiente para lhes devolver alguma energia e muito mais do que isso: devolver-lhes dignidade.
A aula daquele dia foi dada num carro. Um carro pequeno, lutando contra a chuva tal como eles lutavam contra a vida. E apesar da ternura que o gesto carrega, apesar do heroísmo silencioso daquela mulher, não podemos, não devemos, romantizar isto. Porque não há romantismo algum em ver uma professora grávida a improvisar uma escola dentro de um automóvel por falta de condições mínimas. Não há beleza em crianças que caminham quilómetros com os chinelos na mão para não os perderem na lama. Não há poesia na “miséria”. Há resistência, há força, há resiliência: mas não há romantização possível.
É fácil, demasiado fácil, elogiar depois. Aplaudir o acto isolado. Celebrar a “professora heroína”. Mas, no dia seguinte, quantos desses aplausos se transformam em mudança humana? Em consciência comunitária? Em acção concreta? Poucos, quase nenhum.
E aqui, não se trata de culpar governos, instituições, ministérios ou cargos invisíveis. Trata-se de olhar para nós, todos nós, com uma honestidade que raramente temos. Somos nós, como sociedade, que permitimos que certas realidades se tornem “normais”. Somos nós que desviamos o olhar quando a chuva cai sobre os outros. Somos nós que achamos inevitáveis cenários que, no fundo, não deveriam ser inevitáveis. Somos nós que transformamos urgências em paisagens habituais.
A professora não será assunto nas redes (in)sociais. Não gerará likes, não alimentará polémicas, não distrairá as atenções. Não serve de entretenimento. E no mundo digital, aquilo que não entretém não existe. Mas ela existe. E aquelas crianças também. E, enquanto existirem, existe também a responsabilidade colectiva que fingimos não ter.
A crónica poderia terminar aqui, com a imagem forte da professora no Vitz, com a chuva imparável, com as crianças molhadas a tentar aprender entre bancos de couro gasto. Mas isso seria demasiado confortável. Seria deixar o leitor repousar na melancolia literária, quando o que se exige é desconforto. Por isso, insistamos no que não queremos ver.
Não é apenas sobre escola. Não é apenas sobre crianças. Não é apenas sobre uma professora grávida que não desistiu. É sobre nós, todos, e sobre a forma como escolhemos viver juntos. Sobre aquilo que deixamos passar. Sobre o que normalizamos. Sobre o que não questionamos. É sobre o silêncio que fazemos quando já não sabemos o que dizer, e a distância que criamos quando não queremos sentir demasiado.
Se há algo que aquela aula dentro de um carro nos ensina é que a dignidade não se improvisa, vive-se. E a responsabilidade por ela não é somente de um governo, de um ministério, de um departamento: é de todos nós, que habitamos o mesmo chão, a mesma chuva, o mesmo futuro.
. negro

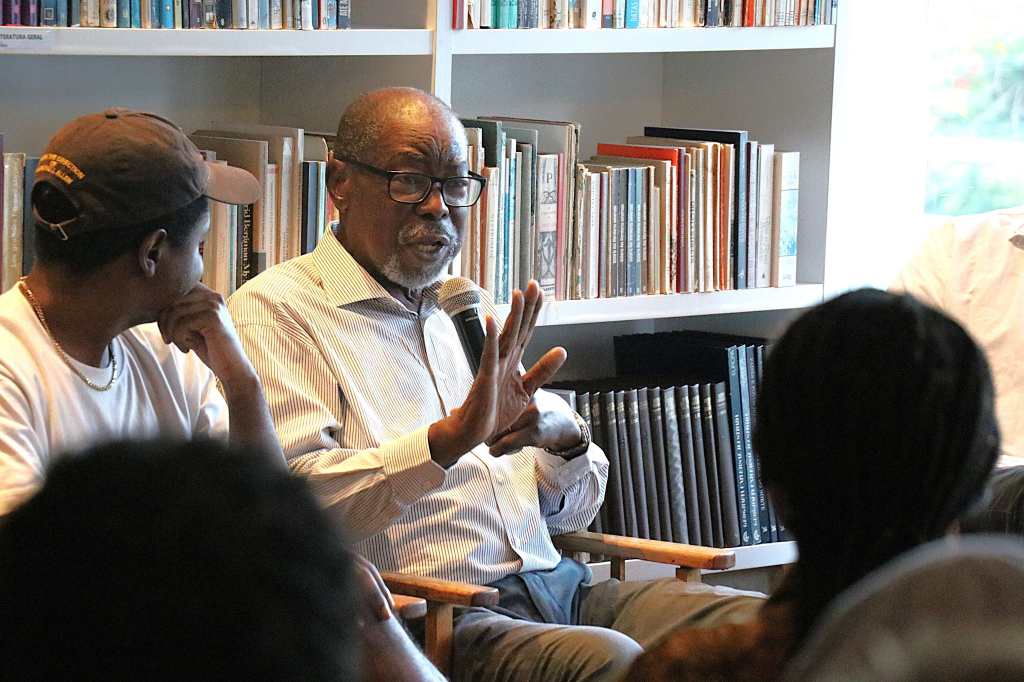



Deixe um comentário