Na crónica de hoje falo de algo sensível, delicado e profundamente nosso, porque toca directa e silenciosamente a pele. Não apenas a que se vê, mas a que se sente. Falo de algo que se entranhou na sociedade moçambicana como moda, como solução, como acessório… mas também como ferida. Falo da peruca. E do embranquecimento da pele. Veio para ficar, dizem. E, mais do que ficar, veio para governar.
Chamemos-lhe, então, pelo nome que escolhi para este texto: “Tenho a peruca, logo existo.”
Desculpa-me, Descartes, mas hoje o pensamento foi substituído por algo mais capilar. A peruca transformou-se, silenciosamente, numa espécie de passaporte social. Nalguns círculos, uma mulher sem peruca é vista quase como alguém que saiu de casa… incompleta. Como se o cabelo fosse o documento de identificação final. E o mais curioso (ou trágico) é que este fenómeno já não habita apenas os bairros mais cosmopolitas ou os “salões da cidade”. Ele esgueira-se pelas ruas estreitas, invade os becos e ruas “bairros”, escolas, universidades, igrejas, transportes, mercados, altares, escritórios, e até nos My Love’s, desde que não seja na Guerra Popular.
A peruca está em toda a parte. O embranquecimento da pele também. E começam cada vez mais cedo. Meninas de 14, 15 anos a alisar a identidade como quem apaga uma frase no caderno. Moças de 18 anos a aclarar as mãos, o rosto, o pescoço, como quem tenta convencer o espelho de que pertence a um mundo onde nunca deveria ter entrado pela porta do fundo.
Mas antes de julgarmos, é preciso compreender.
Porque o que parece fútil à primeira vista é, quase sempre, o resultado de algo muito mais profundo: a domesticação do padrão de beleza. Sim, domesticação. Como quem ensina um animal a obedecer, também nós fomos ensinados a obedecer a uma imagem que não nasceu do nosso chão, da nossa história, do nosso rosto. Fomos treinados, desde cedo, para desconfiar do nosso próprio reflexo. Para acreditar que o nosso cabelo natural precisa de ser domado, escondido, corrigido. Que o nosso tom de pele deve ser aperfeiçoado, iluminado, afinado.
A verdade é que o padrão de beleza que hoje tantas tentam alcançar não foi inventado em nenhum bairro de Maputo, nem num quintal de Inhambane, nem à sombra de uma mangueira em Nampula. Ele chegou de fora, como chegaram tantas outras coisas: primeiro subtil, depois exigente, agora imperativo.
Domesticação escondida atrás de elogios como:
“Estás tão bonita com esse cabelo liso…”,
“Estás mais clara, mais bonita…”,
“Até pareces uma americana”.
Dizem isto como se fosse um presente. Mas é uma prisão embrulhada em fita brilhante. E no meio disto tudo, entra o homem. E entra mal, muitas vezes. Porque a pressão não vem só das revistas, das novelas, do Instagram ou dos salões. Vem do próprio lar. De conversas como:
“Amor, arranja-lá esse cabelo!”,
“Vais mesmo ao casamento, assim?”
E os casais sem capacidade de compra? Ah, esses sofrem dobrado. Ele sacrifica o salário, adia contas, promete mundos, faz malabarismos financeiros para garantir que “a sua mulher” tenha a peruca do touch my bumps. Porque se ela não tiver, é uma confusão. A discussão instala-se. A autoestima dela treme. O amor dele é posto em causa. Os vizinhos comentam. As amigas reparam. Ele sente-se culpado. Ela sente-se insuficiente. Tudo por causa de cabelo. Ou melhor: por causa do que nos ensinaram a acreditar que o cabelo representa.
E assim, em vez de casamentos que crescem em compreensão mútua, criamos casamentos que se alimentam de comparação constante. Em vez de famílias que amadurecem juntas, surgem famílias que ostentam juntas. Em vez de comunhão, nasce competição. O tema toca todas as esferas da sociedade.
Na igreja, há mulheres que não tiram a peruca nem para a oração mais intensa, com medo de serem julgadas pela “naturalidade” do cabelo. Como se Deus reconhecesse melhor as suas filhas quando estão de cabelo liso ou de cabelo posto.
Na escola e universidade, há raparigas que se sentem menos inteligentes, menos capazes, menos aceites se aparecerem com cabelo natural. Os corredores falam. Os grupos comentam. E a adolescência, fase onde tudo dói mais, transforma-se numa espécie de tribunal onde a acusação é sempre a mesma: “não pertences.”
No trabalho, sabe-se (ainda que ninguém admita) que algumas mulheres se sentem obrigadas a parecer “mais polidas”, “mais apresentáveis”, “mais profissionais” com cabelo liso. Como se a competência saísse de dentro das pontas duplas.
Na arte, também vemos esta luta. Fotógrafos que sugerem alisamentos. Maquilhadores que não sabem trabalhar com pele negras. Produtores que escolhem “aquele tipo certo de beleza”. E o “tipo certo” raramente se parece com as mulheres que enchem os nossos mercados, os nossos bairros, as nossas famílias. E tudo isto, somado, vai minando uma coisa que não se compra na esquina nem no salão: estima.
A autoestima, quando ferida, não dói no cabelo, dói na alma.
Há também, e precisamos dizê-lo, uma dimensão económica enorme neste fenómeno. Enquanto alguns lares lutam para comprar farinha, arroz, feijão, gás ou usar para transporte, investem em perucas de milhares de meticais. É uma realidade desconfortável, mas não por falta de inteligência, por falta de espaço interior. Porque quando uma mulher acredita que só existe se tiver peruca, ela não está a fazer uma escolha estética: está a tentar salvar-se de um sentimento de invisibilidade. E invisibilidade dói mais do que a fome. E mais do que a pobreza. E é isso que poucos entendem.
A peruca não é apenas fio sintético ou cabelo humano importado. É identidade plastificada. É pertença comprada. É o direito de ser vista. É a ilusão de ser amada. E quando um país começa a gastar mais em aparência do que em essência, há algo maior a acontecer: a economia emocional está a falir.
Mas atenção: essa crónica não é sobre demonizar perucas. Nem sobre criticar quem as usa. Nem sobre ridicularizar quem esclarece a pele. É sobre perguntar, muito calmamente: porquê? Porquê dói tanto aparecer como se é? Porquê custa tanto amar o que nasceu em nós? O cabelo natural não é só cabelo. É história. É memória genética. É textura que fala das avós, das bisavós, das antepassadas que nunca usaram nada além do que o seu corpo oferecia. É parte da narrativa colectiva de um povo. A pele negra não é só pigmento. É geografia. É clima. É luta. E quando rejeitamos o nosso fenótipo, não rejeitamos um detalhe: rejeitamos uma herança.
A pergunta verdadeira é: quando foi que começámos a acreditar que não éramos suficientes?
Talvez tenha sido quando o olhar do outro se tornou juiz. Quando “pertencer” se tornou mais importante do que “ser”. Quando o mundo começou a premiar o brilho falso e a punir a autenticidade. Quando confundimos beleza com validação. E validação com amor. E talvez seja por isso que esta crónica não é sobre perucas mas sobre cura. Sobre a necessidade urgente de reaprender a existir sem acessórios que nos roubem a verdade.
Sobre reconstruir autoestima desde a infância, para que nenhuma adolescente sinta que precisa de esconder o próprio rosto para ser aceite. Sobre ensinar homens a amar para além do artifício. Sobre ajudar mulheres a verem-se para além do padrão importado. Sobre permitir que a nossa beleza seja plural, diversa, viva, como o próprio país.
Moçambique nunca foi um rosto só. Por que razão haveríamos de querer que as mulheres fossem? No fim de tudo, a frase ressoa: Tenho a peruca, logo existo. Mas a pergunta que eu queria realmente escrever é outra:
E se existíssemos… mesmo sem ela?

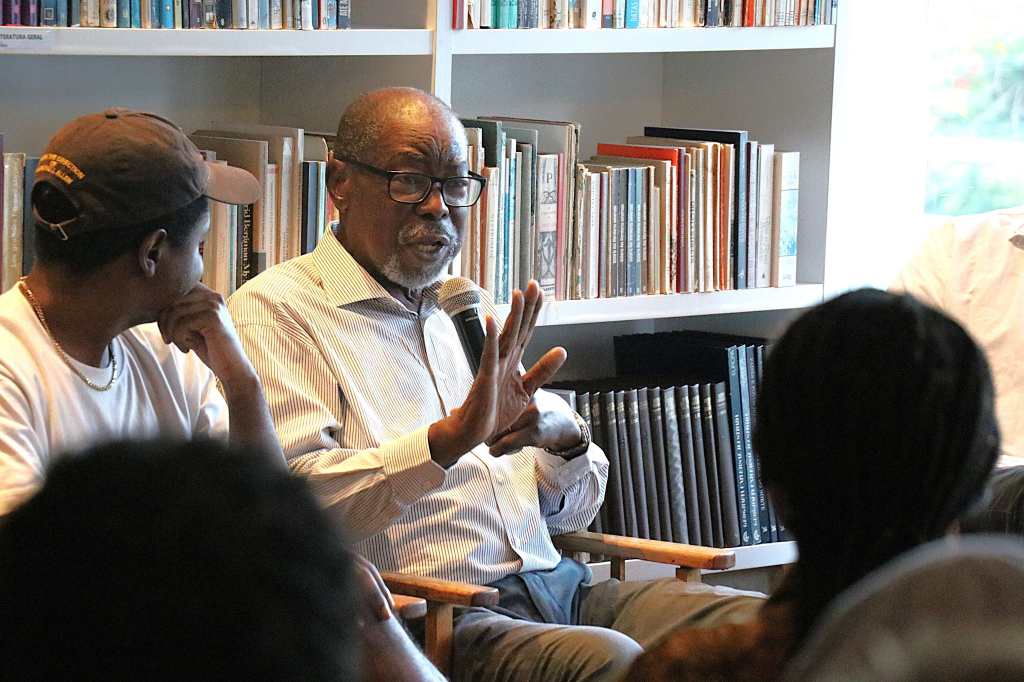



Deixe um comentário