Esta é a primeira crónica do ano. E talvez por isso tenha demorado na inspiração. Não por falta de assunto, mas porque escrever sobre o que se perdeu exige coragem. A coragem de admitir que algo mudou e que nem toda mudança é progresso. Tomei essa coragem depois de ver um estado partilhado por alguém a quem trato por irmã, a Dalila Annette. A imagem trazia uma frase simples, mas pesada como verdade antiga:
“Abundância sem propósito mata mais rápido do que a escassez.
Uma sociedade não morre de fome.
Morre quando esquece por que existe.”
Foi ali que percebi que o desconforto que sinto todos os fins de ano não é apenas nostalgia. É inquietação. É a sensação de que a transição para o ano novo, como momento simbólico, deixou de nos reunir e passou apenas a nos dispersar. E isso não é um detalhe. É um sintoma.
O que escrevo aqui pode parecer retrógrado. Pode soar a discurso de quem ficou preso a outro tempo. Mas quem nasceu por volta de 1988, ou antes, vai reconhecer-se nestas linhas. Não porque tudo fosse perfeito, mas porque havia sentido. Havia chão. Havia pertença. O “fim de ano” não era um convite para fugir de casa. Era um convite para ficar.
A manhã do dia 31 começava cedo. Saíamos todos para limpar as ruas. Não porque alguém mandasse, mas porque fazia parte. Varriam-se passeios, juntava-se lixo, limpavam-se quintais. As árvores eram enfeitadas com luzes simples, balões, fitas improvisadas. Não havia luxo, mas havia intenção. O bairro preparava-se para receber o novo ano como quem arruma a casa para uma visita importante.
As cozinhas tornavam-se o coração das casas. Bolos e biscoitos caseiros, feitos com tempo. A famosa maionese, quase obrigatória. A feijoada a cozinhar lentamente. Frangos temperados desde cedo. Batata frita em grandes quantidades. Comida feita para partilhar, não para mostrar. Ninguém cozinhava para provar estatuto social ou exibir o tipo de pirex usado. Cozinhava-se para alimentar gente, para acolher, para juntar.
As crianças circulavam livres, mas não soltas. Havia respeito pelos mais velhos. Havia limite. Brincávamos o dia inteiro. Futebol, basquetebol, jogos improvisados entre veteranos, femininos, masculinos e os mais novos. Não havia separação rígida. Aprendíamos convivência. Aprendíamos a ganhar e a perder. Aprendíamos, sem saber, a viver em comunidade.
Por volta das 18 horas, o ritmo mudava. Era hora do banho. Hora de vestir roupa nova. Hora de desacelerar. Quem era de fé ia ao culto ou à missa. Quem não era, respeitava. Depois regressávamos a casa. Em grupo. Porque éramos todos da zona. Não precisávamos de atravessar bairros para “curtir”, porque em cada bairro acontecia o mesmo. E mais importante: cada bairro protegia os seus.
As músicas cruzavam-se entre as casas. Kassav, os zouks das Antilhas, Oliver Ngoma, Wazimbo, Mingas. E os kuduros da altura, que levantavam a casa quando os mais jovens entravam na roda. Havia roda. Havia corpo colectivo. Havia participação. Hoje já não há roda. Há palco. Há plateia. Há distância.
A contagem decrescente era feita na sala, na varanda ou no quintal. Em família. Com vizinhos. Com amigos próximos. Quando o ano virava, abraçávamo-nos. Desejávamos bem. Só depois, com permissão dos pais, saíamos para a rua. Para cumprimentar os mais velhos da zona. Para desejar bom ano a quem nos viu crescer. As portas estavam abertas. Não por descuido, mas por confiança. Porque todos se conheciam.
No dia 1, a manhã era de limpeza. Lavavam-se as loiças. Arrumava-se o que ficou. Descansava-se um pouco. E por volta das 13 horas, um camião ou um machimbombo levava as crianças da zona e alguns adultos responsáveis à praia. Íamos molhar os pés. Não exibir corpos. Não beber até cair. A praia estava limpa, à nossa espera. Hoje, ela sofre com a nossa imundice, sob a desculpa de estarmos a “curtir o melhor fim de ano”.
E aqui volta a frase que abriu esta crónica. Abundância sem propósito.
Hoje há festas por todo o lado. Há eventos. Há palcos. Há álcool em excesso. Há luzes, sons, corpos, validação. Mas falta casa. Falta bairro. Falta família. Falta centro.
Com todo o respeito pelos promotores de eventos, é legítimo perguntar: sabemos ainda distinguir celebração de fuga? Estamos a celebrar o quê? O fim de um ano ou o esquecimento de quem somos? A liberdade ou a ausência de responsabilidade? A independência ou a solidão disfarçada?
As televisões mostram sempre o mesmo retrato. Juventude embriagada. Sexo tratado como libertação automática. Corpos exibidos como moeda social. Pouco ou nada disso agrega. Pouco ou nada disso fortalece a família, esse pilar central de qualquer sociedade. Hoje, muitas famílias não sabem onde os filhos passam a virada do ano. E isso diz muito sobre o que deixámos cair.
Antigamente pertencíamos. Hoje queremos todos ser de um lugar que não nos conhece. Um lugar onde ninguém sabe dos nossos desafios. Onde ninguém conhece a nossa humildade. Onde ninguém nos chama pelo nome. Onde ninguém nos responsabiliza. Chamamos a isso modernidade. Mas muitas vezes é apenas abandono bem vestido.
Esta crónica não pede retorno ao passado. O tempo não volta. Mas nem tudo o que abandonámos precisava de ser abandonado. Há valores que não envelhecem. Há gestos que continuam a fazer sentido. Há rituais que existem para nos lembrar quem somos quando o resto falha.
Uma sociedade não morre de fome. Morre quando esquece por que existe. E talvez o “ano novo” seja apenas o momento em que esse esquecimento se torna mais visível.
Ani novo já não é em casa, porquê? Talvez porque deixámos de saber ficar, porque confundimos presença com exibição e porque trocámos pertença por validação. Mas enquanto ainda nos fazemos esta pergunta, a resposta não está perdida.

“Ani novo já não é em casa, porquê?”
A manhã do dia 31 começava cedo. Saíamos todos para limpar as ruas. Não porque alguém mandasse, mas porque fazia parte. Varriam-se passeios, juntava-se lixo, limpavam-se quintais. As árvores eram enfeitadas com luzes simples, balões, fitas improvisadas. Não havia luxo, mas havia intenção. O bairro preparava-se para receber o novo ano como quem arruma a…
4–6 minutos
Descubra mais sobre kiyonga
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
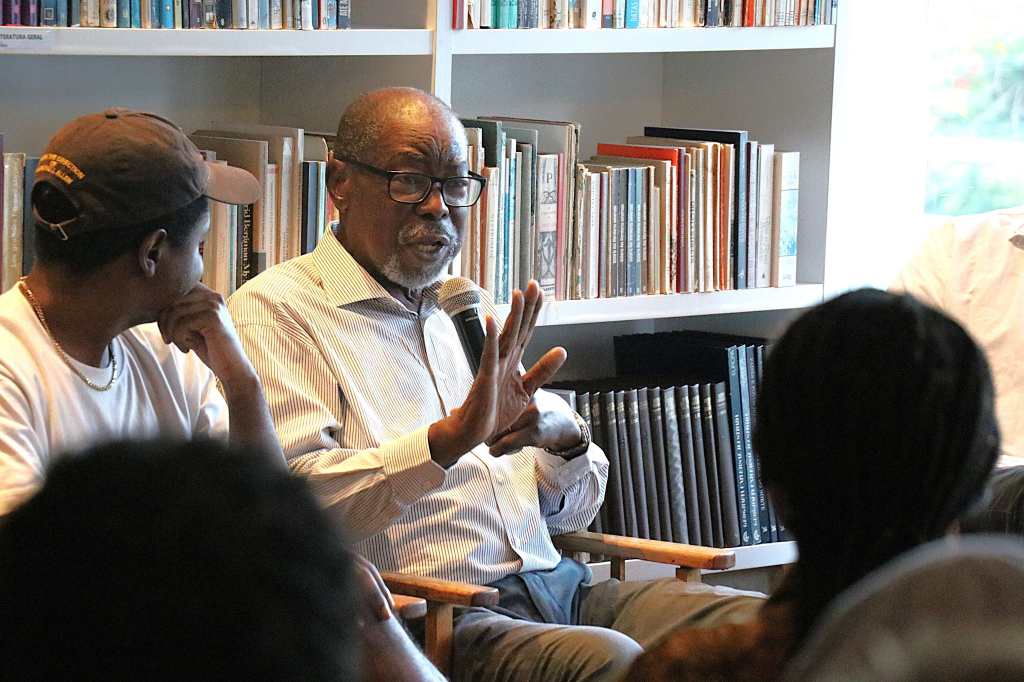



Deixe um comentário