Primeiro, quero pedir desculpas, porque estou cansado, e sinto que não sou o único. Tudo “transbordou”, quando num destes dias, senti que já não havia lugar para mim num grupo de WhatsApp de jovens panafricanistas porque, segundo alguns deles, eu não podia ser panafricanista e, ao mesmo tempo, professar a minha religião, que é a islâmica. Disseram-me isso com uma tranquilidade assustadora, como se estivessem a enunciar uma lei da natureza. Foi nesse dia que me perguntei, com seriedade e com dor: afinal, Deus é de quem? De que grupo? De que ideologia? De que fronteira?
Fiquei a pensar como é possível falar de panafricanismo e, ao mesmo tempo, apagar nomes como Malcolm X, Muammar Gaddafi, Kwame Nkrumah ou Thomas Sankara, profundamente marcados pelo Islão, outros todos profundamente marcados por uma ética de libertação e dignidade humana que nunca esteve em guerra com a fé. Desde quando lutar pela justiça social passou a ser incompatível com crer? Desde quando a espiritualidade virou inimiga da libertação?
Foi aí que percebi que talvez o maior problema da humanidade não seja a fome, nem a guerra, nem a pobreza, mas a nossa incapacidade de conviver com a diferença sem tentar possuí-la, controlá-la ou expulsá-la. Desde quando lutar por dignidade humana passou a ser incompatível com ter uma confissão religiosa? Afinal, quando dizemos que somos panafricanistas, pelo que estamos a lutar? Pela libertação do corpo apenas? Ou também pela libertação da alma? Pela independência política? Ou também pela dignidade espiritual? Pela terra? Ou também pelo sentido?
Não sou ingénuo. Não ignoro séculos de dor. Não ignoro que muitas religiões foram usadas como instrumento de dominação, de escravização, de humilhação. Não ignoro que, em nome de Deus, se cometeram crimes que fariam diabo “render”. Mas é precisamente aqui que começa a parte mais difícil desta reflexão: o problema não é Deus, é o ego humano.
Hoje olho para o mundo e vejo guerras de ódio em todo o lado. Cristãos a tentar defender a “pureza” da sua palavra. Muçulmanos a tentar impor a sua verdade ao seu círculo. Protestantes e evangélicos a quererem também provar que só eles estão certos. Judeus, hindus, budistas, todos com os seus muros invisíveis. E no fim, parece que o mundo inteiro se transformou num grande concurso para decidir quem tem o Deus mais verdadeiro. Mas a pergunta que quase ninguém quer fazer é esta: e se isto nunca tivesse sido sobre quem tem razão?
A palavra religião vem do latim religare: ligar. Religar o homem a Deus. Mas quem é Deus? Deus existe em função dos povos, da fé e da crença dos homens. Deus apresenta-se aos seres humanos na linguagem que eles conseguem entender. E antes das igrejas, antes das mesquitas, antes dos templos, já existiam pessoas. Já existiam medos. Já existiam perguntas. Já existiam ancestrais a olhar para o céu e a perguntar: “quem nos protege?”
Não podemos excluir as primeiras crenças. Não podemos apagar os nossos ancestrais como se eles fossem um erro de percurso. Eles acreditaram quando parecia que o mundo os tinha abandonado. Eles rezaram sem livros. Eles dançaram sem catecismos. Eles falaram com o invisível à sua maneira. E sobreviveram.
As religiões modernas, directa ou indirectamente, ensinaram-nos a ter vergonha dos nossos antepassados. A chamar “pagão” ao que é raiz. A chamar “feitiçaria” ao que é memória. A chamar “erro” ao que é identidade. E depois perguntam-se porque estamos vazios. Mas não é possível eu ser quem sou sem saber de onde venho. Eu sou africano antes de ser qualquer outra coisa. Sou moçambicano antes de ser qualquer rótulo. E pelo caminho, vou alimentando a minha fé no bem, mesmo que isso signifique aprender em vários lugares, em várias mesquitas, em várias igrejas, em vários silêncios. Porque, no fim, o bem devia ser a pregação de todos. Mas não é isso que vemos.
O que vemos é desprezo pela nossa cultura. Olhares tortos quando falo dos nossos ritos. Silêncios desconfortáveis quando falo das nossas danças. Desconfiança quando falo dos nossos rituais. Como se África tivesse começado apenas quando alguém chegou de fora com um livro debaixo do braço. Porque é que tem de haver juramento a regras e ritos e não juramento ao bem? Porque é que a pergunta nunca é: “és uma pessoa justa?” E é sempre: “de que igreja és?” “De que religião és?” “De que lado estás?” E se, no momento da conversão, todas as religiões dissessem apenas: “Eu converto-me para fazer o bem.” E ponto. Sem ameaças de inferno. Sem chantagens espirituais. Sem medo. Talvez o mundo fosse menos barulhento e mais humano.
Hoje, quando partilho algo sobre África, sobre identidade, sobre memória, há sempre alguém que diz:
— “Estás a desrespeitar Deus.”
E eu pergunto: que Deus? O Deus que acolheu os meus antepassados? O Deus que ouviu os seus gritos antes de existirem templos? Como é que honrar a minha raiz pode ser desrespeitar o Criador dessa mesma raiz? Escrevo isto como ser humano, como moçambicano, como africano, como cidadão do mundo. E escrevo porque estou cansado de ver pessoas a matarem-se por causa de nomes diferentes para o mesmo mistério. Deus não cabe numa só capela, não fala uma só língua e não veste uma só cultura.
O dia em que percebemos isso, talvez descubramos que o problema nunca foi a religião. O problema foi sempre o nosso desejo de mandar, de dominar, de controlar, de estar acima dos outros. Enquanto houver pessoas que acreditam que a sua fé os torna superior, o mundo continuará doente. Enquanto houver pessoas que acham que Deus odeia o que é diferente, continuaremos em guerra. Enquanto houver pessoas que trocam humanidade por doutrina, continuaremos a falhar. Não precisamos de menos fé. Precisamos de mais humanidade. Talvez o maior acto de fé seja este: “fazer o bem sem perguntar a quem”.




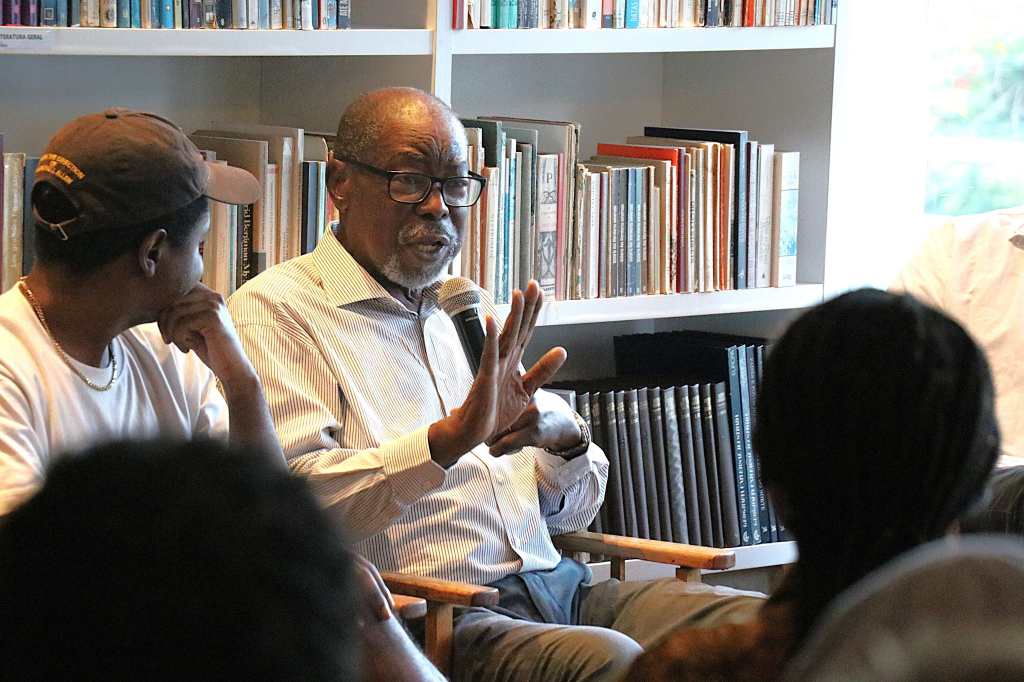
Deixe um comentário